Home Saúde Saiba quanto tempo dura imunidade após infecção por covid
Por Redação Rádio Pampa | 11 de julho de 2022
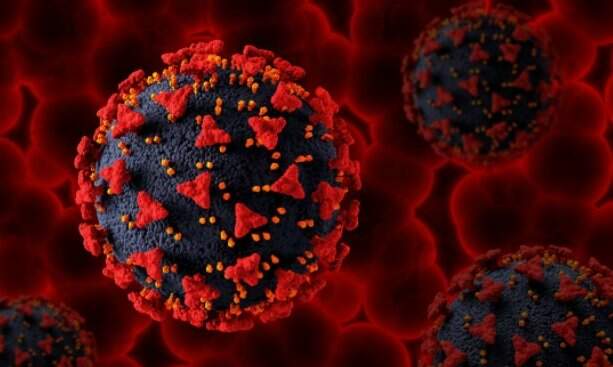
Foi-se o tempo em que os cientistas pensavam que pegar covid era uma experiência que cada um de nós só teria uma vez na vida.
Com o espalhamento das novas variantes, especialmente as sublinhagens derivadas da ômicron, como a BA.2 e a BA.5, os casos de reinfecção se tornaram muito mais comuns — em alguns indivíduos, o segundo episódio da doença acontece num intervalo bem curto, de poucas semanas após o primeiro quadro.
E, embora a janela de imunidade possa variar entre poucas semanas a até alguns anos de pessoa para pessoa, as evidências científicas mais recentes permitem entender um pouco melhor como nossas células de defesa atuam, quanto tempo essa proteção costuma durar e quais são os fatores que facilitam o contato com o coronavírus seguidas vezes.
Contra-ataque coordenado
Mas, antes de mais nada, como funciona nosso sistema imunológico durante uma infecção viral?
Tudo começa quando um vírus invade o corpo e começa a usar nossas próprias células para criar novas cópias de si mesmo.
Uma hora ou outra, esse processo anormal chama a atenção das unidades de defesa, que iniciam um contra-ataque para conter a expansão do patógeno.
Esse trabalho envolve um verdadeiro batalhão de células, das quais é possível destacar duas entre as mais importantes: os linfócitos T e B.
Os linfócitos T têm a função de coordenar a resposta imune. Eles identificam as células infectadas e as matam.
Já os linfócitos B são os responsáveis por produzir os anticorpos específicos, uma espécie de “antídoto personalizado” que gruda e inativa os vírus.
“É como se o linfócito T disparasse um míssil que destrói a estrutura doente. Daí, os vírus que sobram são neutralizados pelos anticorpos dos linfócitos B”, resume Antonio Condino Neto, professor sênior de imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP).
Se todo esse trabalho for bem sucedido, eventualmente a infecção é controlada e os vírus são completamente eliminados do organismo.
Isso, por sua vez, gera um tipo de aprendizado ao sistema imunológico. Por um tempo, as células de defesa em circulação sabem como agir caso o vírus em questão resolva tentar uma nova invasão.
Um mecanismo de proteção parecido acontece durante a vacinação — com a vantagem de as unidades imunes serem “treinadas” sem que o corpo padeça pela ação de um patógeno de verdade.
Mas daí vem uma questão importante: por quanto tempo essa imunidade se mantém?
A resposta para essa pergunta varia consideravelmente de acordo com o vírus e as características de cada um.
“De um lado, há doenças como sarampo ou rubéola, que geralmente só temos no máximo uma vez na vida e acabou”, diz Condino Neto.
“Do outro, temos gripe, Covid e resfriados, que podemos pegar por diversas vezes”, compara.
Mas o que diferencia um grupo do outro?
Drible muito efetivo
Há diversos motivos que ajudam a entender por que em alguns casos a imunidade dura muitos anos (ou até para sempre) e, em outros, ela vai embora rapidinho.
Um dos principais fatores tem a ver com as próprias características do vírus e a interação que ele tem com nosso organismo.
Vamos começar com a parcela desses patógenos que é estável e permanece praticamente igual ao longo de décadas ou séculos.
Essa característica representa uma boa notícia para o sistema imune, que consegue reconhecer o agente infeccioso e resgata as instruções de como combatê-lo, graças à infecção prévia ou à vacinação.
Agora, imagine o cenário oposto, que acontece quando os vírus circulam com muita rapidez e são uma verdadeira metamorfose ambulante?
Esse é o caso do Sars-CoV-2, o coronavírus responsável pela pandemia atual: ele sofre mutações genéticas a todo o momento, conforme é transmitido de pessoa para pessoa.
Se essas alterações trouxerem vantagens ao patógeno — como uma maior facilidade para infectar as células ou a capacidade de driblar a resposta imune, por exemplo — elas vão prosperar.
É assim que surgem as variantes de preocupação. Essas novas versões do vírus ganham terreno e estão por trás de reedições nas ondas de casos, hospitalizações e mortes.
Ao longo dos últimos dois anos e meio, vimos esse fenômeno acontecer ao menos cinco vezes, com a chegada das variantes alfa, beta, gama, delta e ômicron.
Mais recentemente, o aparecimento de subvariantes derivadas da ômicron, como a BA.2 e a BA.5, acelerou e aprofundou ainda mais esse processo.
Em suma, todas essas linhagens carregam mudanças nos genes que apareciam no vírus “original”, detectado pela primeira vez em janeiro de 2020 em Wuhan, na China.
Do ponto de vista das nossas defesas, esse fato representa uma péssima notícia. Isso porque a resposta imune obtida através de uma infecção prévia ou da vacinação se torna cada vez mais desatualizada.
Com o passar do tempo — e o surgimento de novas variantes com mutações genéticas mais diversas — o resultado do trabalho dos linfócitos B torna-se cada vez menos efetivo.
Isso porque os anticorpos que eles fabricam são montados especificamente para neutralizar o causador da primeira infecção — ou, de preferência, estão alinhados à formulação original da vacina, que carrega instruções para combater as versões mais antigas do vírus.
Ou seja: se uma variante que tenta invadir o corpo apresenta mudanças significativas na estrutura, os tais anticorpos não conseguem mais agir como se esperava.













